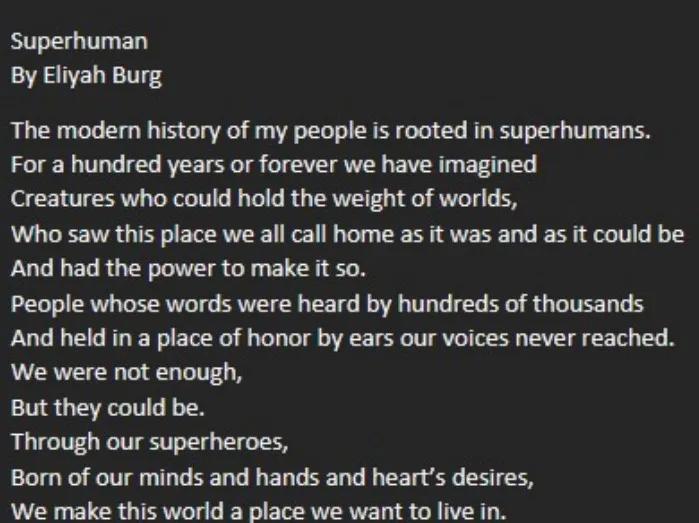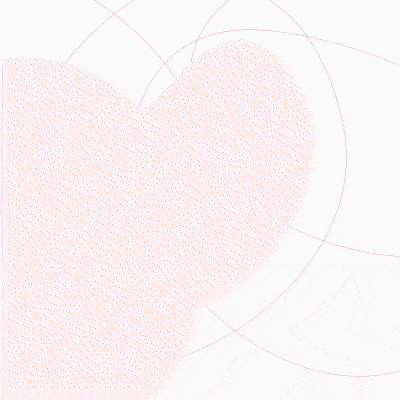Vencedora do prêmio APCA 2020 na categoria de melhor atriz, Tatiana Tiburcio viu seu trabalho no, especial “Falas Negras”, exibido pela Globo em novembro, ser reconhecido por público e crítica. Ela interpretou a empregada doméstica Mirtes Renata Santana de Souza, a mãe de Miguel, de 5 anos, que caiu do alto de um prédio no Recife, em junho do ano passado, após a patroa de Mirtes, Sari Mariana Gaspar Corte Real ter deixado o menino sozinho dentro de um elevador. “Todo útero preto se contorceu com a notícia”, diz a atriz.
Depois de as cenas irem ao ar, famosos e anônimos foram às redes sociais para parabenizar Tatiana, uma atriz que carrega em sua história os aprendizados daqueles que abriram caminho para a dramaturgia feita por pessoas negras, como Ruth de Souza, Zezé Motta, Neuza Borges, Milton Gonçalves.
O APCA é um prêmio entregue pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Tatiana dividiu a premiação de melhor atriz com Camila Morgado, pela série da Netflix “Bom Dia, Verônica“. Antes dela, a última mulher negra premiada havia sido Camila Pitanga, em 2007, pela novela Paraíso Tropical.
“A mudança não vem fácil e, quando vem, mesmo que em pequenos formatos, é preciso comemorar. Ainda assim, não vamos parar de insistir para que ela aconteça de forma plena, total e verdadeiramente igualitária e justa”, diz Tatiana nesta entrevista para Universa. Leia os principais trechos:
UNIVERSA – Como você se preparou para interpretar a dona Mirtes?
TATIANA TIBURCIO – Isso é um pouco do que a gente deve saber fazer como ator. E na compreensão do trabalho, foi consenso entre eu e o Lazinho [o diretor Lázaro Ramos] que os atores compreendessem que não tinham que representar ipsi litteris aquelas personalidades. O que nos interessava era o discurso daquelas pessoas, mais do que a fala, porque o discurso carrega um pensamento, um desejo de transformação. A técnica do ator já está em nós, é como o médico que não precisa parar pra pensar na posição do bisturi. Nossa construção partiu daí e cada um achou seu ponto.
Como você soube da notícia da morte de Miguel?
Soube do que tinha acontecido com o Miguelzinho um dia depois. Quando fiquei sabendo, foi uma coisa absurda, porque chorei pelo Miguel não como se ele fosse meu filho, mas como todos nós devemos chorar pelas vidas negras. E não porque vidas negras são melhores, mas porque são as que mais caem. Todo útero preto se contorceu com aquela situação.
A violência em relação ao corpo negro é tão banalizada, que a gente chega a ter que verbalizar que já se acostumou com elas. Não por se acomodar, mas para criar certa blindagem, para não morrer junto em cada corpo que cai.
Quando acontece uma invasão em comunidade, por exemplo, arranjam a desculpa de que “é o bandido”. O que, no fundo, é racismo. No caso do Miguel, não tinha desculpa. Ele sofreu a indiferença. Foi forte. Mas, como a morte de George Floyd, a gente vê como elas mudaram o mundo.
Você conheceu a Mirtes?
Tempos depois do caso, a atriz Ju Colombo me chamou para participar de uma campanha de camisetas com frases que a Mirtes disse. Durante muito tempo, eu não conseguia falar sobre o caso, nem ver as imagens. Foi difícil, mas, claro, não mais do que foi para ela. Tive contato com ela, nos falamos por áudio. Eu ia fazer só a preparação do elenco, achei que era muita responsabilidade fazer interpretação e preparação.
Você ganhou o prêmio APCA de Melhor Atriz 2020. A última negra a ganhar nessa categoria havia sido a Camila Pitanga, há 14 anos.
Isso mostra de forma incontestável a falta de oportunidade para atores negros, a invisibilidade do artista negro e, por consequência, do sujeito negro. Por outro lado, mostra a necessidade de mudanças. As pessoas abriram o olhar para além daquilo que está sempre estabelecido como parâmetro. Que bom que o véu caiu dos olhos. Comemoro o ineditismo, mas fico surpresa, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A mudança não vem fácil e, quando vem, mesmo que em pequenos formatos, é preciso comemorar. Ainda assim, não vamos parar de insistir para que ela aconteça de forma plena, total e verdadeiramente igualitária e justa.
Como sua história de vida se assemelha às das mulheres negras do país?
Foi um processo que a grande maioria de nós viveu. Primeiro, você fica dentro do espaço que foi determinado, aceitando padrões como verdade, sem ter consciência do que está acontecendo. Achando normal não se ver representado, não se achar bonito. Achando normal não existir, apesar de estar existindo. Mas isso tem consequência danosa, que é colocar a responsabilidade disso sobre si. É passar química no cabelo, trocar o jeito de se vestir. Só que isso é um problema que não é seu e nem foi criado por você.
Eu tive a sorte de ir encontrando pessoas pelo caminho que me ajudaram a tirar o véu, que não está só nos olhos do sujeito branco, está nos olhos de todos. Aliás, construção de um caminho identitário é o grande ganho dessa mudança de percurso.
Como foi o começo da sua carreira? E como ela te ajudou nessa construção?
Eu começo pelo teatro. Me formei numa escola essencialmente teatral, a Martins Pena, a mais antiga escola teatral da América Latina, no Centro do Rio de Janeiro. No teatro, eu aprendi que era gente. Foi o lugar que me acolheu como sujeito e como artista. Acontece que minha mãe começou a fazer teatro quando se separou do primeiro casamento e eu a acompanhava. Ela era divertida, não respeitava as marcas, tinha a plateia na mão sempre. Eu fazia algumas pequenas participações.
Com uns 10 anos, o bichinho do teatro me mordeu. Aos 16, fui fazer a prova para as aulas da Martins Pena escondida. Morava em São Gonçalo e fui para o Rio. Então, minha mãe viu que eu queria e me colocou em um curso em Niterói, onde tenho amigos até hoje. Nesse curso, eu ainda não fazia personagens que tivessem minha cara, porque o que a gente fazia era interpretar cena da série “A comédia da vida privada”. A diversão era essa. Quando entrei na Martins Pena, o teatro me salvou, porque lá tinha todo tipo de gente, negro, branco, nordestino, pobre e rico, o que de fato representa nosso país.
Seu nome aparece muito ligado ao da atriz Ruth de Souza. De onde vem essa conexão?
Ai, dá um aperto no peito. Quando eu tinha 13 anos, vi uma cena da Ruth fazendo o filme Sinhá Moça. O olhar daquela mulher me prendeu de uma maneira absurda, eu nem fazia ideia das coisas profundas do teatro, mas eu parei para ver. Já tinha pôster da atriz Iléa Ferraz ao lado do New Kids On the Block, então colei lá uma foto da dona Ruth que peguei. Pensava em “vai que…” sobre um dia eu ser atriz como ela. Mas nem conseguia formular a frase.
Quando entrei para a Companhia dos Comuns, o nome dela e de Abdias do Nascimento estavam o tempo todo como referência, por causa do Teatro Experimental do Negro. Então, me chamaram para fazer a novela Sinhá Moça, na TV Globo, e me disseram que eu teria uma sogra. Estava no camarim, em uma gravação externa, quando ela aparece, Ruth de Souza. Era uma lady, sorridente. Me deu bom dia e eu nem consegui responder porque estava congelada.
Ficamos amigas, ela me ensinou muito, adorava contar a própria história e me deu o start para um projeto de ciclo de leitura dramatizada, o Negro olhar. Íamos para o palco para fazer esboços de encenação, e isso estava muito em alta. Ela foi uma grande madrinha, porque ela ligava para os mais velhos e para falar de mim. Me apresentou a Leia Garcia.
Ruth de Souza foi uma das primeiras a indicar o lugar do negro na TV. Houve avanços nesses 40 anos?
Não só ela, mas Zezé Motta, Leia Garcia, Chica Xavier, Neuza Borges, Milton Gonçalves, Haroldo Costa, Jorge Coutinho. São vários nomes que estão presentes na minha alma. Dona Ruth começou a carreira de atriz quando a mulher negra não era nem vista como gente. Se hoje eu estou falando com você, é porque esses passos foram dados. É importante que a gente valorize, entendendo que vemos mais negros presente na cena, mas é preciso se ater de que forma estão presentes.
Conseguimos alçar muitos voos, mas precisamos de mudanças, porque ainda tem um perfil determinado para nós. Você vê a pluralidade de pessoas brancas, magras, altas, gordas, baixas. E quando são pessoas negras, há um padrão de aceitação estético.
Quando você interpretou Chica, na novela Sol Nascente (2016), a roupa dela como noiva tinha referências africanas. Você sentiu o impacto de levar a cultura negra às telas?
Para quem está assistindo, é um ganho gigantesco. Abre um leque de possibilidades, de identificação. Quisera eu assistir a uma novela tempos atrás e ver com normalidade e beleza algo assim, não como algo excepcional. Foi um casamento com características de uma cultura a qual pertenço. Imagina a mudança que isso faz na cabeça de uma pessoa em transformação. É ver que existe, alguém pode dizer “olha, meu cabelo, a roupa que eu vejo minha tia usando às vezes, a música que eu escuto na minha casa”. A arte é como um espelho da realidade e, se olhamos e há uma realidade filtrada, você está vendo pela metade.
No caso da Chica, era para ser um casamento de matriz afro-brasileira. Sugeri colocar algo com raiz, com uma pesquisa da cultura jejê, porque os negros que não comungavam da mesma religião poderiam ter um distanciamento, ou poderia cair em um estereótipo. E aí, vimos a questão do tecido, de tudo. Quando a gente se propõe a uma mudança como um todo, coletivamente, quando se entende que o problema também é seu, isso acontece. A pessoa branca não vai falar por mim, mas vai falar do lugar de fala dela.
No mesmo dia em que saiu o Falas Negras, ficamos sabendo da morte de Beto Freitas, no Carrefour. De que forma você vê a relação das histórias do especial com a realidade?
É triste ver o quanto a gente precisa caminhar. Em 2020, ver negros serem assassinados na frente de todo mundo… É muito doloroso ver o eco de 1600 ainda reverberando em 2020. É difícil mudar um pensamento de quatro séculos, tempo da escravização no Brasil, em pouco mais de 130 anos. Serão necessários mais quatro séculos para isso.
Matéria Original:
Nathália Geraldo De Universa 23/01/2021 04h00 – https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/01/23/tatiana-tiburcio.htm


 Entretenimento2 anos atrás
Entretenimento2 anos atrás
 Esportes2 anos atrás
Esportes2 anos atrás
 Entretenimento2 anos atrás
Entretenimento2 anos atrás
 Entretenimento2 anos atrás
Entretenimento2 anos atrás
 Entretenimento2 anos atrás
Entretenimento2 anos atrás
 Entretenimento2 anos atrás
Entretenimento2 anos atrás
 Entretenimento2 anos atrás
Entretenimento2 anos atrás
 Política2 anos atrás
Política2 anos atrás