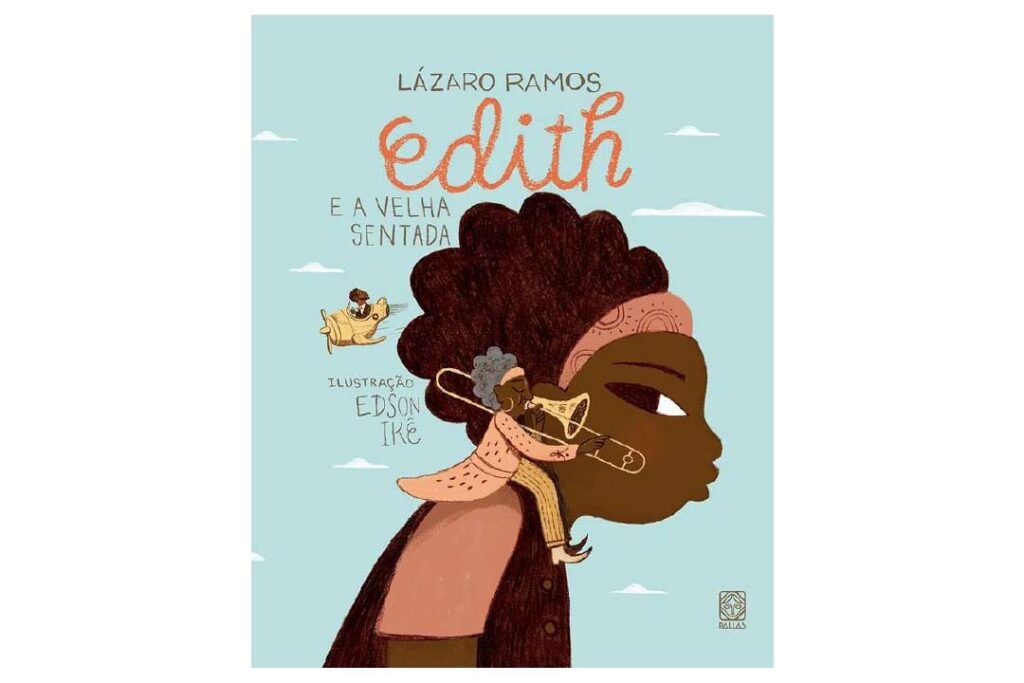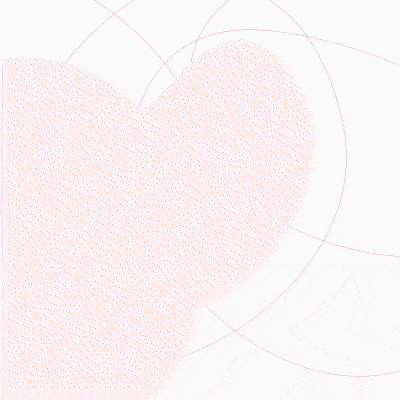Se Anitta é a patroa, ela é a chefona. Taísa Machado é a “especialista em funk” que aparece no documentário da cantora “Made in Honório”, da Netflix, explicando os símbolos e as contradições que atravessam a música e a dança que vêm da favela. Por que um movimento estourado no mercado artístico brasileiro sofre, na mesma medida, com preconceito e opressão por onde passa? De onde vem a força dessa cultura? E por que ser funkeiro ou funkeira incomoda tanto?
Taísa tem essas e outras respostas na ponta da língua afiada. Criadora da Afrofunk Rio, plataforma de conteúdo para “descolonização do corpo” como ela define, a dona da @ “chefona mermo“, como ela pode ser encontrada nas redes sociais — pauta o rebolado na liberdade dos corpos, no debate sobre equidade de gênero e raça e, ufa, alia o funk às expressões ancestrais pretas.
Tudo passa pela origem, pelo tambor e pela sexualidade que, acredita a roteirista, ainda não é assunto recorrente nas letras de funk. “Falam de sexo, mas não de sexualidade saudável”.
Em entrevista para Universa, Taísa analisa a forma com que as mulheres são vistas e se posicionam no movimento, como a sociedade vê a cultura periférica e pondera sobre a necessidade de mobilização política entre os funkeiros.
Por que o funk ainda é marginalizado?
Por causa do racismo. Quando falamos disso, as pessoas não-negras que consomem funk falam que o preconceito com o funkeiro tem mais a ver com a classe social do que com a questão racial. Mas, não é verdade. A gente vê o funk atingir status, mas quem está ali na base e quem sofre preconceito são os pretos. A Ludmilla, por exemplo, é uma grande estrela do funk e constantemente sofre ataques racistas.
Há também aqueles que tentam criticar o processo criativo e falar da métrica das músicas. São aqueles que vão contra a raiz preta do funk, que é de ter versos simples, de ser sexual – o que tem em várias outras vertentes de música e dança pretas pelo mundo. Há dez anos, os músicos falavam que tinha só batida, mas não tinha harmonia… Que, na verdade, tem a ver com a coisa do tambor. Então, várias coisas passam pela questão de raça mesmo.
O que o funk carrega dessa ancestralidade?
O tambor e o uso do atabaque são os pontos que ligam várias expressões artísticas no mundo. Inclusive, ao mesmo tempo em que elas são pops, encontram um espaço de unidade muito vivo. O tambor faz isso com elas.
E quando penso em tecnologia do funk, penso em como ele foi criando gambiarras para sobreviver e para se expandir. Essa é a grande parada. A sacada de fazer uma versão light para uma música, embora isso seja cheio de poréns, é uma forma de sobreviver. Porque é querer expandir e chegar ao rádio.
E até de maneira bem literal, a tecnologia passa pelo fato de o funk ser um movimento muito acelerado e, dentro dele, se criam novas caixas de som, garotos favelados que não tem dinheiro para equipamento aprendem a mexer em aplicativos… A tecnologia da sobrevivência.
Ainda que os meninos ganhem o mundo com o passinho, o rebolado da mulher é a marca mais forte do funk. O que explica essa expressão corporal?
Tem uma coisa que eu gosto de falar, que é sobre o lugar da dança e do corpo na ancestralidade preta. Várias nações africanas diferentes veem os dois na mesma posição, por enxergar o tempo em duas dimensões.
Vou falar da filosofia iorubá, talvez a que mais influencia a cultura aqui no Brasil e que é a base do pensamento do candomblé: nela, o mundo é dividido entre o Orum, onde os deuses estão, e o Aiyê, onde nós estamos. E é a música e a dança que fazem a conexão entre esses dois mundos. A gente cresceu no Brasil com isso, dançando. Mesmo que tenha uma cultura mais hegemônica. Ou o Estado proibindo várias danças, como o funk acaba sendo um pouco proibido, já que as pessoas são assassinadas só por estar em um baile.
Mas, ainda assim, se solidificou. E, nesses ensinamentos antigos, a dança não é só como entretenimento para as mulheres, mas para ensiná-las alguma coisa. Há rituais para a mulher aprender como o corpo dela se comporta na atividade sexual, na gestação, na vida íntima.
A baikoko, da Tanzânia, por exemplo. É feita com tambor e com dança parecida com o funk, e ensina que o rebolar faz a gente ficar mais saudável, ajuda na hora do parto, na contração e na expansão dos músculos pélvicos. E acho que, de alguma maneira, mesmo no inconsciente, isso está vivo nas mulheres pretas do mundo.
Mesmo com algumas mudanças, algumas letras de funk continuam sendo de homens falando coisas imperativas a mulheres, do tipo “Rebola pro pai”, “Senta aqui”. Como você vê a questão da objetificação da mulher na cena?
A brincadeira do funk já é um jogo sexual. Assim como tem o “Senta pro pai”, por persistência das mulheres, também tem o “Chupa minha buceta”, “Bota aqui”.
As mulheres vêm revolucionando. Há 20 anos, a Deize, a Valesca Popozuda, a Tati Quebra-Barraco trouxeram o “puro suco de putaria”. A nova geração, como a MC Rebecca, a Ludmilla, a própria Anitta e mais uma galera underground, muda isso. São letras com visões menos heteronormativas e com frases do tipo: “Vem, mas sem me machucar”, educando os homens.
Então, tem essa brincadeira, o que não significa que ela é saudável. Porque também contém objetificação. Por isso que acho que esse pensamento preto sobre o corpo pode ser útil se ficar mais popular, porque ele “desobjetifica” as pessoas. Há conexão mais profunda com a sexualidade. O funk fala de sexo e não de sexualidade saudável.
As mulheres conseguem dar o recado aos poucos, não só as DJs e MCs, mas o movimento de mulheres fora do funk. Estamos reeducando a cena sobre nossos corpos e como queremos ser tratadas. A derrubada de “Surubinha de leve” [música que foi retirada das plataformas de streaming em 2018], foi um grande marco. Vieram algumas tão problemáticas quanto, mas acho que teve uma diminuição desse tipo de música.
A Anitta é a “patroa”. E seu perfil no Instagram é “Chefona mermo”. Acha que o funk tem sido um caminho para as mulheres chegarem ao topo?
Nunca tinha me ligado que meu apelido é chefona e o da Anitta, patroa! Tô me sentindo muito poderosa!
A cena do funk é muito desigual para homens e mulheres. Não só de DJs e MCs, mas atrás das câmeras também. Foi a Mãe Loura, uma mulher que lutou na linha de frente da Furacão 2000, por exemplo. A Kamilla Fialho, produtora, colocou uma galera para aparecer na televisão. As mulheres sempre estiveram muito ativas no movimento. Tem muita mina querendo participar mais.
No passinho, os homens são a maioria. Por ser uma dança menos ‘rebolativa’, parece ter mais aceitação do que a que as mulheres fazem.
E, por exemplo, se uma dançarina vai fazer show com um DJ, ele cobra R$ 15 mil, mas só paga R$ 200 para ela. E as meninas ficam felizes, porque vão fazer seis apresentações por noite… Mas não é justo. O corpo da mulher é como se fosse o cartão postal do funk. Então, as meninas têm que ser, além de respeitadas, bem remuneradas.
Como surgiu a ideia do Afrofunk Rio?
Começou de forma despretensiosa. Eu era do grupo de teatro Tá na Rua, do Amir Haddad, e dançava com duas mestras de dança afro, Eliete Miranda e Valéria Monã.
E quando eu ia para os bailes, ficava pilhada prestando atenção nos movimentos das pessoas, associando o que eu aprendia na dança afro, no Tá na Rua. Quando eu saí do grupo, quis transformar o que eu pesquisava numa oficina. E aí já temos seis anos de Afrofunk Rio. Ele já teve outro formato: convidei a Renata Batista, que é atriz, a Sabrina Ginga, dançarina, e a Maria Clara Coelho, DJ, e ficamos fazendo espetáculos de música e dança por dois anos.
Hoje, defino o Afrofunk como uma plataforma de ações e conteúdos para o funk, com foco em equidade racial e de gênero. E dentro dela, há as oficinas que usam o funk para entender o corpo da mulher, sob uma perspectiva preta.
A gente passa, na verdade, por várias danças, mas o funk é o preferido, até porque é o nosso. Não à toa, o nome é Afrofunk Rio: é a visão do quadril da mulher preta aqui no Rio.
De que forma você enxerga o funk como um jeito de levar liberdade ao corpo feminino?
A mulher que rebola é tida como sensual no nosso imaginário. Então, quando uma mulher tem questões com sua forma corporal, por ser gorda e achar que não pode ser sensual, e se vê fazendo passos para rebolar, isso a ajuda a lidar com essa exigência sobre o próprio corpo.
Rebolar é gostoso para as mulheres. Quando a gente rebola por muito tempo, numa sequência de movimentos simples, você consegue lubrificar a vagina.
E o que me surpreende no Afrofunk é que vão muitas mulheres brancas, de classe média, de 40 a 50 anos, que não necessariamente frequentam baile, mas rebolam justamente para lidar com o corpo e com a performance sexual. Elas percebem que podem transar melhor e se libertar se fizeram os movimentos.
Já para mulheres negras, o Afrofunk tem outro sentido. Elas pararam de dançar justamente porque ao mesmo tempo em que isso as liberava, as oprimia, por estarem sob os olhares de hipersexualização. E lá isso não acontece.
O funk é aliado no combate aos preconceitos, como gordofobia, LGBTfobia?
Tem uma coisa que o Dennis DJ fala que eu acho muito maneiro: não é preciso pedir licença para entrar no funk. Como a mulher funkeira acabou se estabilizando como a que tem a habilidade do corpo, a beleza, referências que ficaram por um tempo ali no axé, quem se sentia fora desse “lugar de mulher bonita” quer conquistar esse espaço.
Ainda é um movimento que eu vejo mais na internet do que no baile. Não que não tenha meninas gordas no baile, mas essa aceitação ainda é individual. Embora a gente tenha a Carol Bandida [MC Carol], não sei até onde isso é vida real.
Já para as pessoas LGBTQIA+, acho que a rua abraçou mais essa inclusão. Eu acho que, de uns cinco anos para cá, é mais fácil uma bicha preta, uma gay não-normativa curtir um baile sem apanhar. O Rennan [da Penha] ter feito o Baile da Gaiola LGBT, em 2019, foi muito importante. Eu estava lá, várias mulheres trans, com mama, sem mama, todas jogando… E a favela levando aquilo numa boa. E tem alguns nomes, como Nininha Problemática, Pabllo Vittar, que passeia pelo funk. Acho que essa pauta está mais avançada.
Seu trabalho inspirou um livro, o “Afrofunk e A ciência do rebolado“. Tem uma ciência mesmo?
A grande ciência do funk é como as mulheres conseguem manter uma tradição, não só ligada à espiritualidade, de dançar para os deuses, mas à sexualidade, à revolução do corpo feminino na sociedade, à questão racial. A dança é um conjunto de informações sobre o movimento do corpo muito poderoso e que é passado de geração em geração e de geografia em geografia.
Tivemos nesse ano um processo de ‘ancestralização’ no rebolar. A Beyoncé fez muito, com Black Is King, e algumas influenciadoras de dança trocaram até a estética da parada. Não dança mais de shortinho, mas amarra um lenço que tem a ver com a família, por exemplo.
O funk pode ser visto por um prisma, e um dos lados é o político. Você acha que o funk é político?
É político, sim. Mas ele é outro jeito de reagir, de opinar e de pensar política. Toda vez que me perguntam isso, eu digo que sim, mas tem uma coisa cafona nessa frase. Por conta do entendimento do que é política para as pessoas.
O que digo é que ele mexe com as estruturas da sociedade e com a cabeça das pessoas. Mas, não sei até onde o funk é organizado nesse sentido. Você pega entrevistas de artistas, MCs que estão ali na linha de frente, todos eles dizem que é político. Mas não é um movimento mobilizado.
Mas há personagens bem interessantes que podem mudar isso. Bruno Ramos [articulador de funk], a Fernanda Souza [jornalista], a Renata Prado [professora de funk], o Afrofunk dá alguma contribuição, a Renata Prado, o Movimento do Passinho que é muito organizado…
E sobre letramento racial, que o funk nunca dialogou muito, agora com MCs ficando milionários e percebendo que o racismo não acaba, muita coisa pode mudar. E está mudando. Você entra em perfis de pessoas importantes, como o Rennan, Lorena, Ludmilla, todo mundo está falando sobre raça, sobre como o Governo trata os pretos e a favela. Então, tenho fé de que o funk pode se mobilizar muito mais.
Matéria retirada do site: por Nathália Geraldo
“Rebolar ajuda mulher a se libertar no sexo”, diz ‘chefona’ do Afrofunk Rio – 29/12/2020 – UOL Universa


 Entretenimento8 meses atrás
Entretenimento8 meses atrás
 Entretenimento6 meses atrás
Entretenimento6 meses atrás
 Esportes6 meses atrás
Esportes6 meses atrás
 Entretenimento6 meses atrás
Entretenimento6 meses atrás
 Entretenimento3 anos atrás
Entretenimento3 anos atrás
 Entretenimento3 anos atrás
Entretenimento3 anos atrás
 Entretenimento3 anos atrás
Entretenimento3 anos atrás
 Política3 anos atrás
Política3 anos atrás